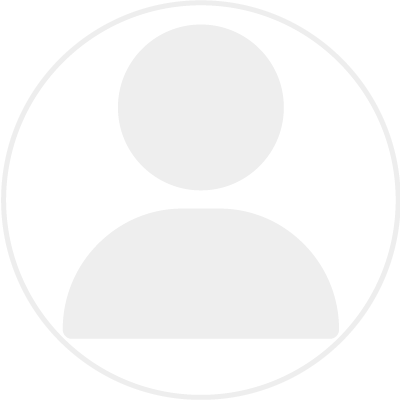Competência para aplicar o jus cogens internacional
Olivia Raposo da Silva Telles*
Introdução
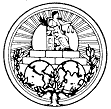 1. A decisão proferida pela Corte Internacional de Justiça no caso das atividades armadas no território do Congo, em 10 de julho de 2002, suscita a questão da fundamentação da competência da C.I.J. com base unicamente na invocação de normas imperativas ou de jus cogens: pode a C.I.J. declarar-se competente sem que seja demonstrada a expressa aceitação de sua jurisdição?
1. A decisão proferida pela Corte Internacional de Justiça no caso das atividades armadas no território do Congo, em 10 de julho de 2002, suscita a questão da fundamentação da competência da C.I.J. com base unicamente na invocação de normas imperativas ou de jus cogens: pode a C.I.J. declarar-se competente sem que seja demonstrada a expressa aceitação de sua jurisdição?
De fato, em sua petição inicial1 e em seu pedido de medida liminar2 em face da República Ruandesa, a República Democrática do Congo invocou, como base para fundamentar a competência da C.I.J., o jus cogens, além de diversos textos convencionais.
2. O objetivo do presente trabalho é de examinar, à luz do sentido da evolução do direito internacional, o estado atual da noção de jus cogens e das regras relativas à competência nos tribunais internacionais cuja jurisdição tem vocação universal.
3. Como afirma o Professor Celso Lafer3, a consolidação do Estado Moderno, na Europa, no século XVI, levou à elaboração dos conceitos de soberania e de  “razão de Estado”. A aplicação de tais conceitos trouxe a dessuetude do conceito medieval de monarquia universal como princípio organizador das relações internacionais, que se viu substituído pela idéia de um sistema caracterizado pela coexistência de uma multiplicidade de Estados soberanos4. Esses Estados soberanos podiam chegar a acordos voluntários – tratados – para regulamentar as suas relações externas, que também eram disciplinadas pelo costume5. A Paz de Westfália, de 1648, refletiu, numa perspectiva de direito positivo, essa concepção do direito das gentes6. Até a Segunda Guerra Mundial, as regras do direito internacional foram elaboradas a partir da idéia da igualdade jurídica dos Estados, numa sociedade internacional em que se colocavam uns em relação aos outros de forma mais ou menos justaposta7.
“razão de Estado”. A aplicação de tais conceitos trouxe a dessuetude do conceito medieval de monarquia universal como princípio organizador das relações internacionais, que se viu substituído pela idéia de um sistema caracterizado pela coexistência de uma multiplicidade de Estados soberanos4. Esses Estados soberanos podiam chegar a acordos voluntários – tratados – para regulamentar as suas relações externas, que também eram disciplinadas pelo costume5. A Paz de Westfália, de 1648, refletiu, numa perspectiva de direito positivo, essa concepção do direito das gentes6. Até a Segunda Guerra Mundial, as regras do direito internacional foram elaboradas a partir da idéia da igualdade jurídica dos Estados, numa sociedade internacional em que se colocavam uns em relação aos outros de forma mais ou menos justaposta7.
Do fato dessa lógica de lateralidade entre iguais soberanias resultava um fenômeno de tripla indiferenciação ou equivalência, como assinala Pierre-Marie Dupuy9: equivalência das regras jurídicas entre si – assim nem seu objeto nem o número de Estados que contribuíram para sua formação poderiam hierarquizá-las; equivalência entre as regras de edição das normas e as próprias normas – isto é, entre regras secundárias e regras primárias; e equivalência das fontes do direito internacional entre si – pois seriam todas igualmente oriundas da manifestação de vontade dos Estados soberanos. Para a doutrina clássica dos séculos XIX e XX, a do positivismo voluntarista, esses três fenômenos de equivalência constituíam as notas características mais marcantes e menos contestáveis da ordem jurídica internacional10.
O término da Segunda Guerra Mundial contribuiu para que aparecesse uma dimensão verdadeiramente universal no relacionamento entre os povos e os Estados. A afirmação da existência de uma comunidade internacional, constituída em torno de um certo número de interesses comuns a todos os seus membros, tendeu à afirmação de regras de ordem pública11. É por essa razão que o preâmbulo da Carta da O.N.U. inicia com a célebre frase “Nós, os povos das Nações Unidas…”, diferentemente das “Altas partes contratantes” que introduzem o texto do Pacto da Sociedade das Nações12. Trata-se agora de uma Carta, não de um Pacto; o termo “Pacto”, oriundo do direito dos tratados, traduzia o acordo consensual entre Estados soberanos13. Com a Carta, as referências são constitucionais14.
Além disso, o término da Segunda Guerra Mundial e o processo de descolonização levaram ao reconhecimento do caráter imperativo de certos princípios de direito internacional geral, costumeiro, superiores à vontade dos Estados. Reconheceu-se assim a existência de normas, simples e em pequeno número, aplicáveis à comunidade internacional em seu conjunto. São normas que não podem ser derrogadas pela vontade dos Estados e que engendram direitos cuja proteção interessa a toda a humanidade. É o que se costuma denominar jus cogens ou normas imperativas.
Se por um lado sua vigência é hoje bem reconhecida e assentada no direito internacional, como se verá na primeira parte deste trabalho, sua efetivação ainda exige a reforma das regras de competência das jurisdições internacionais com vocação universal, como se verá na segunda parte deste trabalho.
Primeira parte – O jus cogens no direito internacional atual
I . As Convenções sobre direito dos tratados
4. A noção de jus cogens no direito internacional foi formulada expressamente pela primeira vez na Convenção de Viena sobre direito dos tratados, de 23 de maio de 1969. Já no preâmbulo os Estados-partes se declaram “Conscientes dos princípios de direito internacional incorporados na Carta das Nações Unidas, tais como os princípios da igualdade de direitos e autodeterminação dos povos, da igualdade soberana e independência de todos os Estados, da não-ingerência nos assuntos internos dos Estados, da proibição da ameaça ou do emprego da força e do respeito universal e efetivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais para todos”.
De acordo com o artigo 53, “É nulo o tratado que, no momento de sua conclusão, conflita com uma norma imperativa de direito internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados no seu conjunto, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por nova norma de direito internacional da mesma natureza”. O artigo 64 estabelece que “Se sobrevier uma nova norma imperativa de direito internacional geral, qualquer tratado existente em conflito com essa norma torna-se nulo e extingue-se”.
Durante os trabalhos preparatórios, a Comissão de Direito Internacional advertiu que ela não criara nada de novo com esses artigos e que “certas regras e certos princípios que os Estados não podem derrogar por atos convencionais” já existiam no momento em que ela elaborava o projeto de Convenção15. Mas a Comissão inovou ao recomendar, por unanimidade, que a violação das normas imperativas fosse sancionada pela nulidade dos tratados16. Para marcar o caráter inovador da solução adotada, diversos delegados na Conferência assinalaram que ela não teria sido possível no passado, quando a concepção contratual do direito internacional prevalecia17. Como escrevem Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier e Alain Pellet18, essa observação demonstra o verdadeiro alcance da obra da Comissão, confirmada pela Conferência que aprovou o projeto de Convenção: o próprio fundamento do direito internacional foi posto em questão.
Confrontada com a dificuldade de estabelecer um critério para distinguir as normas imperativas das demais, a C.D.I., em seu relatório, citou alguns exemplos de tratados que derrogam o jus cogens: tratado que vislumbra o emprego da força em violação dos princípios da Carta da O.N.U., tratado que organiza o tráfico de escravos, a pirataria ou o genocídio, tratados que violam os direitos humanos19. A C.D.I. absteve-se de propor uma lista de exemplos no texto da Convenção, declarando que convinha deixar à prática dos Estados e aos tribunais internacionais a tarefa de determinar progressivamente essas normas20. Mas é preciso pôr em relevo uma exceção que a Convenção de Viena de 1969 consagra em matéria de extinção ou suspensão da execução de um tratado em conseqüência de sua violação: a regra geral segundo a qual uma violação substancial de um tratado bilateral, por uma das partes, autoriza a outra parte a invocar a violação como causa de extinção ou suspensão de sua execução não se aplica às disposições sobre proteção da pessoa humana contidas em tratados de caráter humanitário (artigo 60, 5). Além disso, a Convenção estabelece que é nulo o tratado cuja conclusão foi obtida pela ameaça ou com o emprego da força, em violação dos princípios consagrados na Carta da O.N.U. (artigo 52).
A Convenção de Viena de 21 de março de 1986 sobre os tratados entre Estados e organizações internacionais e entre organizações internacionais repete, mutatis mutandis, as disposições da Convenção de 1969. Os artigos 53 e 64 da Convenção de 1986 são idênticos aos mesmos artigos da Convenção de 1969.
II. As quatro Convenções de Genebra de 1949
5. Diversos autores identificam nas quatro Convenções de direito humanitário de 12 de agosto de 1949 as primeiras disposições declaratórias da existência de um jus cogens internacional21. Com efeito, as quatro Convenções – a primeira sobre a proteção dos enfermos e dos feridos em guerras terrestres; a segunda sobre a proteção de feridos, enfermos e náufragos nas guerras navais; a terceira sobre o tratamento dos prisioneiros de guerra; e a quarta sobre a proteção da população civil vítima de conflitos bélicos – consagram a invalidade de acordos conflitantes com os “princípios gerais de base do direito humanitário”. É o que estabelece uma disposição comum às quatro Convenções, segundo a qual “a denúncia do tratado não tem efeito sobre as obrigações que as partes no conflito permanecem incumbidas de cumprir em razão dos princípios de direito das gentes que resultam dos usos estabelecidos entre os povos civilizados, das leis de humanidade e das exigências da consciência pública” (respectivamente artigos 63, 62, 142 e 158).
III. A doutrina
6. Para Nguyen Quoc Dinh, Patrick Dailler e Alain Pellet22, as Convenções de Viena deram um impulso decisivo ao progresso do princípio da hierarquia das normas. Esses autores sustentam que os artigos 53 e 64 das Convenções de Viena estabelecem uma verdadeira hierarquia entre as normas imperativas e as outras. Mas eles assinalam que as disposições contidas nesses artigos são insuficientes para que se possa determinar se uma determinada regra constitui ou não uma norma imperativa.23 Ademais, eles observam que a noção de comunidade de Estados “em seu conjunto” é ambígua: se claro está que a unanimidade não é exigida, por outro lado o artigo 53 deixa sem resposta a questão do número de Estados que devem “aceitar e reconhecer” o caráter imperativo de uma norma para que se possa considerá-la como norma de jus cogens24. Além disso, eles suscitam a questão das normas imperativas regionais, que não é abordada pelo artigo 5325. Finalmente, eles notam que segundo o artigo 64 novas normas imperativas podem surgir no futuro. Se essa concepção dinâmica do jus cogens é ditada pela  necessidade de uma adaptação contínua do direito às condições mutáveis da coexistência pacífica e às aspirações variadas dos novos Estados, por outro lado as Convenções não instituem um procedimento específico de elaboração das normas de jus cogens26.
necessidade de uma adaptação contínua do direito às condições mutáveis da coexistência pacífica e às aspirações variadas dos novos Estados, por outro lado as Convenções não instituem um procedimento específico de elaboração das normas de jus cogens26.
7. Para o Professor Guido Fernando Silva Soares27, o artigo 53 mal delineia o que considera como jus cogens, embora tenha dado suas notas distintivas, no conjunto das outras normas, a fim de estabelecer sua posição hierárquica superior: a prevalência em caso de conflito e a inderrogabilidade. Quanto à questão do que seja o “conjunto dos Estados” esse autor estima que sua indefinição apresenta os mesmos problemas que os relacionados aos costumes internacionais: da mesma forma que a constituição de um costume refere-se mais à prevalência dos valores nele reconhecidos como obrigatórios (a relevância da opinio juris), a determinação de uma norma como sendo jus cogens dependerá dos valores transcendentais que ela acolhe28.
8. Michel Virally29 assinala que “norma imperativa” não é sinônimo de “norma obrigatória”: todas as normas do direito internacional são, com efeito, obrigatórias para os Estados, o que significa que sua violação constituiria um ato ilícito30. Mas esse autor nota que as normas obrigatórias de direito internacional podem em geral ser objeto de derrogação por vontade das partes31. Elas constituem o que normalmente se denomina direito dispositivo, enquanto que o jus cogens se caracteriza precisamente pelo fato de que suas normas não podem ser derrogadas nas relações mútuas entre dois ou mais Estados32. Em outras palavras, um Estado não pode renunciar aos direitos criados pelas normas de jus cogens33. Michel Virally34 estima que a situação que resulta da existência do jus cogens apresenta um caráter excepcional no estado atual do desenvolvimento da sociedade internacional, porque impõe uma limitação à autonomia da vontade dos Estados, isto é, à sua liberdade contratual, considerada tradicionalmente como absoluta.
9. Para o Professor Dominique Carreau35, o reconhecimento da existência de regras de jus cogens constitui uma volta notável à idéia de direito natural. Ele assinala que jus cogens e direito natural repousam sobre o mesmo fundamento, a mesma convicção filosófica, a saber, a existência de um certo número de regras fundamentais ligadas à consciência universal e inerentes à existência de toda sociedade internacional digna desse nome. Ele observa que nem todas as regras fundamentais do direito internacional geral fazem parte do jus cogens. Assim, por exemplo, a regra pacta sunt servanda, que não pode ser objeto de derrogação, é uma regra do direito dos tratados sem ser uma norma de jus cogens36. Esse autor distingue as regras bem aceitas de jus cogens daquelas que são contestadas. Como exemplo das primeiras, cita a interdição do recurso à força de modo contrário à Carta da O.N.U., a interdição do tráfico de seres humanos, da pirataria e do genocídio, bem como os princípios humanitários consagrados pelas quatro Convenções de Genebra de 1949, o direito à autodeterminação dos povos e os direitos humanos. Como exemplo das segundas, cita o princípio da liberdade dos mares e o princípio da coexistência pacífica.
10. Pierre-Marie Dupuy37 define o jus cogens como categoria normativa que reúne as normas essenciais para a sobrevivência da comunidade internacional. Ele cita como exemplos os princípios da interdição do recurso à força e da autodeterminação dos povos bem como os direitos fundamentais da pessoa humana. Esse autor assinala com razão que o alcance da noção de jus cogens ultrapassa largamente o âmbito restrito do direito dos tratados e que as normas imperativas são forçosamente normas de origem costumeira e não convencional. Ele demonstra que a introdução das normas de jus cogens no direito dos tratados pela Convenção de Viena teve o efeito de fazer coexistir no âmbito da ordem jurídica internacional duas lógicas distintas38. A primeira, tradicional, do subjetivismo das relações laterais entre Estados igualmente soberanos e não submetidos a nenhuma autoridade superior; a segunda, revolucionária, do objetivismo inerente à noção de normas imperativas, que se impõem aos Estados tornados assim literalmente sujeitos de uma ordem jurídica agora dotada de uma hierarquia normativa, em que prevalece o jus cogens39.
11. Assim como Pierre-Marie Dupuy, Antônio Augusto Cançado Trindade40 considera que o alcance das normas de jus cogens não se limita ao direito dos tratados: “Apesar de que as duas Convenções de Viena sobre Direito dos Tratados (artigos 53 e 64) consagram a função do jus cogens no domínio próprio do direito dos tratados, parece-nos uma conseqüência inelutável da própria existência de normas imperativas do direito internacional não se limitarem estas às violações resultantes de tratados, e se estenderem a toda e qualquer violação, inclusive as resultantes de toda e qualquer ação e quaisquer atos unilaterais dos Estados”.
12. Jean Combacau e Serge Sur41 também consideram que as regras imperativas não deveriam, como acontece nas Convenções de Viena sobre direito dos tratados, limitar seus efeitos ao direito dos tratados, mas antes estendê-los ao conjunto das condutas internacionais e sobretudo aos atos unilaterais. Eles notam que os exemplos freqüentemente citados de regras imperativas – proibição da pirataria, da escravidão, do recurso à força – apresentam, exceto este último, um aspecto vão, à medida que dificilmente essas práticas seriam organizadas por meio de tratados internacionais.
13. Hubert Thierry42 reforça essa tese de Combacau e Sur relativamente ao alcance da noção de jus cogens. Ele afirma, a respeito do artigo 53 da Convenção de Viena de 1969: “Essa definição é em si exterior ao direito dos tratados. Ela implica a existência de uma categoria de normas distinta daquela das normas obrigatórias e que tem conseqüências sobre o direito dos tratados mas que potencialmente pode se aplicar a outros campos. Assim, a Convenção de Viena, deduzindo as conseqüências do jus cogens quanto aos tratados, abriu caminho para outros desenvolvimentos”. Esse autor sublinha o fato de que as normas de jus cogens não são apenas normas às quais nenhuma derrogação é permitida. São também e sobretudo normas que engendram direitos cuja proteção interessa a todos os Estados. São normas proibitivas, interdições absolutas de certos comportamentos, um conjunto mínimo, um núcleo de normas simples e em pequeno número.
IV. A jurisprudência da C.I.J.
14. A existência de um conjunto mínimo de normas imperativas de direito internacional geral, costumeiro, tem sido reconhecida pela C.I.J.. No caso do estreito de Corfu, a C.I.J. afirmou, em 194943: “Essas obrigações são fundadas não sobre a Convenção VIII de Haia, de 1907, que é aplicável em tempo de guerra, mas sobre certos princípios gerais e bem assentados, como as considerações de elementar humanidade, mais absolutas ainda em tempo de paz do que em tempo de guerra, o princípio da liberdade das comunicações marítimas e a obrigação que incumbe a todo Estado de não permitir a utilização de seu território para a realização de atos contrários aos direitos de outros Estados”. No caso das reservas à Convenção para prevenção e repressão do crime de genocídio44, a Corte declarou, em 1951: “As origens da Convenção revelam a intenção das Nações Unidas de condenar e de reprimir o genocídio como ‘um crime de direito das gentes’ implicando a recusa do direito à existência a grupos humanos inteiros (…). Essa concepção acarreta uma primeira conseqüência: os princípios que estão na base da Convenção são princípios reconhecidos pelas nações civilizadas como princípios que vinculam os Estados mesmo na ausência de todo liame convencional”. No caso Barcelona Traction45, a Corte disse, em 1970, que “Uma distinção essencial deve em particular ser estabelecida entre as obrigações dos Estados perante a comunidade internacional em seu conjunto e aquelas que nascem perante um outro Estado no âmbito da proteção diplomática. Por sua própria natureza, as primeiras implicam todos os Estados. Tendo em vista a importância dos direitos em causa, todos os Estados podem ser considerados como titulares de um interesse jurídico na proteção desses direitos; as obrigações de que se trata são obrigações erga omnes. Essas obrigações decorrem, por exemplo, no direito internacional contemporâneo, de se considerarem ilícitos os atos de agressão e de genocídio mas também princípios e regras relativos aos direitos fundamentais da pessoa humana, inclusive a proteção contra a escravidão e a discriminação racial”. No caso relativo ao pessoal diplomático e consular dos Estados Unidos em Teerã46, a C.I.J. considerou, em 1979, que “nenhum Estado tem obrigação de manter relações diplomáticas ou consulares com um outro Estado, mas não pode deixar de reconhecer as obrigações imperativas que elas comportam e que estão agora codificadas nas Convenções de Viena”. No caso das atividades militares e paramilitares na Nicarágua a Corte decidiu, em 1986: “os Estados Unidos têm obrigação segundo os termos do artigo 1º das quatro Convenções de Genebra de respeitar e fazer respeitar essas Convenções em todas as circunstâncias, pois tal obrigação não decorre das próprias Convenções mas de princípios gerais de direito humanitário dos quais as Convenções são apenas a expressão concreta”.
V. As decisões arbitrais
15. As decisões dos tribunais arbitrais também contribuíram para a precisão do conteúdo da noção de norma imperativa. No caso Aminoil c. Kuwait, o Tribunal arbitral declarou, em 1982: “pretendeu-se que a soberania permanente sobre os recursos naturais tenha se tornado uma regra imperativa de ius cogens, impedindo os Estados de conceder, por contrato ou por tratado, garantias de qualquer natureza relativas ao exercício da autoridade pública sobre as riquezas naturais. Essa pretensão é desprovida de fundamento”47.
No caso da delimitação da fronteira marítima Guiné-Bissau c. Senegal, o Tribunal arbitral estimou que “do ponto de vista do direto dos tratados, o jus cogens é simplesmente a característica própria a certas normas jurídicas de não serem suscetíveis de derrogação pela via convencional”48.
Em seus pareceres nºs 149 e 950, a Comissão de arbitragem da Conferência pela paz na Yugoslávia considerou que “as normas imperativas do direito internacional geral e em particular o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana e aos direitos dos povos e das minorias se impõem a todas às partes na sucessão”. Em seu parecer nº 251, a mesma Comissão reiterou que “em virtude de normas, agora imperativas, de direito internacional geral, incumbe aos Estados assegurar o respeito dos direitos das minorias. Essa exigência se impõe a todas as Republicas quanto às minorias estabelecidas sobre o seu território”. No Parecer nº 10, a Comissão refere-se ao “respeito devido às normas imperativas de direito internacional geral, notadamente as que proíbem o recurso à força nas relações com outros Estados ou que garantem os direitos das minorias éticas, religiosas ou lingüísticas”52.
VI. Os trabalhos da Comissão de Direito Internacional sobre a responsabilidade internacional
16. O projeto de Convenção sobre responsabilidade internacional dos Estados elaborado pela Comissão de Direito Internacional distingue crimes e delitos internacionais. Ele define crime como sendo “o fato internacionalmente ilícito resultante de uma violação por um Estado de uma obrigação internacional tão essencial para a salvaguarda de interesses fundamentais da comunidade internacional que sua violação é reconhecida como um crime por essa comunidade em seu conjunto”53. O artigo 19 enuncia as obrigações cuja violação constitui um crime “segundo as regras do direito internacional em vigor”54. Trata-se das obrigações de importância essencial para a manutenção da paz e da segurança internacionais, como a que proíbe a agressão; das que são essenciais para a salvaguarda do direito à autodeterminação dos povos, como a que proíbe o estabelecimento ou a manutenção, pela força, de uma dominação colonial; das que são de importância essencial para a salvaguarda do ser humano, como as que proíbem a escravidão, o genocídio, o apartheid; e finalmente das que são essenciais para a salvaguarda e a preservação do meio ambiente, como as que proíbem a poluição maciça da atmosfera ou dos mares55. São obrigações que fazem parte do jus cogens, embora a C.D.I. tenha sugerido que a categoria das normas de jus cogens pudesse ser mais ampla do que a categoria das normas cuja violação constitui um crime internacional56. Assim, o artigo 19 implica que as violações de certas normas do jus cogens sejam crimes internacionais e criem para todos os Estados certos direitos e obrigações específicos57. O artigo 19 não estabelece quais são esses direitos e obrigações mas os trabalhos posteriores da C.D.I. dão algumas indicações esclarecedoras sobre esse assunto59. Trata-se da obrigação de não reconhecer como legal uma situação decorrente de um crime internacional; de não prestar ajuda e assistência ao Estado que cometeu o crime para manter a situação criada por esse crime; de se juntar aos outros Estados para prestarem-se assistência mútua na execução dessas obrigações59. Trata-se também do direito de adotar represálias que não impliquem o emprego da força armada.60
Segunda parte – Aplicação do jus cogens pelos tribunais internacionais cuja jurisdição tem vocação universal
17. Se a existência das normas de jus cogens é fato bem assentado no direito internacional, como visto na primeira parte deste trabalho, o mesmo não vale para a obrigatoriedade da competência das jurisdições internacionais com vocação universal para aplicá-las.
I. A Corte Internacional de Justiça
18. A Corte Internacional de Justiça é estabelecida pela Carta da O.N.U. como o principal órgão judiciário das Nações Unidas. Nem por isso, no entanto, sua competência para conhecer de litígios entre Estados referentes à aplicação do jus cogens tem sido reconhecida como obrigatória. Pelo contrário, até hoje tem prevalecido a regra de que os Estados devem aceitar expressamente, de modo geral ou no caso concreto, a competência da Corte (artigo 36 do Estatuto).
Como afirmou a C.I.J. na referida decisão de 10 de julho de 2002, “em virtude de seu Estatuto a Corte não tem automaticamente competência para conhecer dos litígios entre os Estados-partes no Estatuto ou entre outros Estados admitidos perante ela”. Isso porque “um dos princípios fundamentais de seu Estatuto é o de que ela não pode solucionar um litígio entre Estados sem que estes tenham consentido com sua jurisdição”. Sendo assim, “a Corte só tem portanto competência relativamente aos Estados-partes num litígio se esses últimos tiverem não apenas acesso à Corte mas se eles tiverem aceitado sua competência, seja de uma maneira geral, seja para o litígio específico de que se trata”. A decisão cita, para reforçar esse entendimento, a decisão proferida no caso da licitude do emprego da força que opôs a Iugoslávia à Bélgica (C.I.J. Recueil 1999, p. 132).
Acontece que a competência da Corte tem sido prevista, como não poderia deixar de ser, em diversos textos internacionais, inclusive textos que declaram normas de jus cogens, o que leva forçosamente a indagar se as disposições sobre a competência da Corte também não declaram normas de direito internacional geral. É o caso das Convenções de Viena sobre direito dos tratados e de diversos tratados internacionais em matéria de direitos humanos, como se verá a seguir.
A-) As Convenções de Viena sobre direito dos tratados
19. Como visto na primeira parte deste trabalho, a Convenção de Viena sobre direito dos tratados, de 23 de maio de 1969, estabelece em seus artigos 53 e 64 que são nulos os tratados que conflitam com normas de jus cogens, isto é, com normas imperativas de direito internacional geral.
O procedimento relativo à declaração de nulidade61 é previsto no artigo 65, que deve ser lido em conjunto com o artigo 66, que trata da solução de controvérsias. Se uma parte invocar uma causa para impugnar a validade de um tratado, tal como o conflito com norma imperativa, ela deve notificar sua pretensão às outras partes. Se ao cabo de pelo menos três meses a contar do recebimento da notificação – salvo em caso de extrema urgência – nenhuma parte formular objeções, a parte que fez a notificação pode tomar a medida projetada, isto é, declarar a nulidade do tratado. O artigo 67 determina que essa notificação deve ser feita por escrito e que o ato que declara a nulidade deve ser consignado num instrumento comunicado às outras partes. Se, porém, qualquer outra parte houver formulado objeção, as partes deverão procurar uma solução pelos meios previstos no artigo 33 da Carta das Nações Unidas, isto é, por negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial, recurso a entidades ou acordos regionais, ou por qualquer outro meio pacífico à sua escolha. Se nenhuma solução for alcançada nos doze meses seguintes à data na qual a objeção foi formulada e se a controvérsia for relativa à aplicação e à interpretação dos artigos 53 ou 64, qualquer parte poderá submetê-la à decisão da Corte Internacional de Justiça, salvo se as partes decidirem, de comum acordo, submeter a controvérsia à arbitragem (artigo 66).
Isto significa que, no espírito da Convenção de 1969, as controvérsias relativas à declaração de nulidade dos tratados que contrariem normas imperativas de direito internacional não devem ficar sem solução; devem, ao contrário, ser solucionadas pelos procedimentos pacíficos à escolha das partes e, na falta deles, devem ser submetidas à Corte Internacional de Justiça.
O parágrafo 4 do artigo 65 determina que “nada nos parágrafos anteriores prejudicará os direitos ou obrigações das partes, nos termos de qualquer disposição em vigor, entre elas, sobre solução de controvérsias”. Isso significa que as disposições convencionais relativas ao modo de solução de controvérsias permanecem em vigor, prevalecendo sobre a competência da Corte Internacional de Justiça. Mas as controvérsias não devem ficar sem solução, na falta de acordo sobre outro modo de solução. Bem ao contrário, a competência da Corte nesse caso é obrigatória e prescinde de outra forma de aceitação expressa.
Além disso e sobretudo essa disposição da Convenção de Viena não pode limitar os efeitos do reconhecimento das normas de jus cogens no direito internacional geral sobre as regras de competência das jurisdições com vocação universal. Essa disposição apenas esclarece o alcance da competência obrigatória da Corte no âmbito da solução de controvérsias sobre a declaração de nulidade de um tratado conflitante com norma imperativa. Afinal, a Convenção de Viena refere-se ao direito dos tratados, o que não significa que não existam normas de jus cogens, de direito internacional geral, relativas a condutas e atos unilaterais. Também não significa que essas normas de jus cogens de direito internacional geral relativas a condutas e atos unilaterais não tenham conseqüências lógicas e necessárias sobre as regras de competência das jurisdições com vocação universal.
A questão que pode se apresentar com relação a essa disposição do parágrafo 4 é de saber se, havendo uma convenção que declare o caráter criminoso de determinada conduta, como, por exemplo, a Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, de 10 de dezembro de 1984, a controvérsia sobre a nulidade de um tratado firmado entre Estados-partes nessa Convenção destinado a executar o crime de tortura seria regida pela disposição de solução de disputas da Convenção contra a tortura ou pela disposição de solução de disputas da Convenção de Viena. Parece que a resposta óbvia é que tal controvérsia deveria ser dirimida segundo as disposições sobre solução de disputas da Convenção de Viena, que trata da nulidade de tratados por incompatibilidade com normas imperativas, e não pelo artigo 30 da Convenção contra a tortura, que trata das controvérsias sobre a violação da Convenção, isto é, sobre a prática em si da tortura.
Assim como na Convenção de Viena de 1969, o procedimento relativo à nulidade é previsto no artigo 65 da Convenção de Viena de 1986, que deve ser lido em conjunto com o artigo 66, que trata da solução de controvérsias. O que importa ressaltar é que, de acordo com o artigo 66 da Convenção de 1986, se nenhuma solução for alcançada nos doze meses seguintes à data na qual a objeção foi formulada e se a controvérsia for relativa à aplicação e à interpretação dos artigos 53 ou 64, a controvérsia poderá ser submetida à C.I.J. para julgamento, se for uma controvérsia entre Estados, ou para emissão de parecer consultivo, se a controvérsia envolver uma organização internacional.
B-) Os tratados que declaram normas de jus cogens
20. A idéia de que a Corte Internacional de Justiça é competente segundo o direito internacional geral para dirimir controvérsias oriundas da violação das normas de jus cogens é confirmada por diversos textos internacionais em matéria de direitos humanos.
É o caso, em primeiro lugar, da Convenção sobre a prevenção e a repressão do crime de genocídio, de 9 de dezembro de 1948. De acordo com o artigo 9, “As controvérsias entre as Partes contratantes relativas à interpretação, à aplicação ou à execução da presente Convenção, inclusive aquelas relativas à responsabilidade de um Estado em matéria de genocídio ou de qualquer outro ato entre os enumerados no artigo III, serão submetidas à Corte Internacional de Justiça, a pedido de uma parte na controvérsia”.
É o caso, também, da Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, de 21 de dezembro de 1965. De acordo com o artigo 22, “As controvérsias entre dois ou mais Estados-partes, com relação à interpretação ou aplicação da presente Convenção que não puderem ser dirimidas por meio de negociação ou pelos processos previstos expressamente nesta Convenção serão, a pedido de um deles, submetidas à decisão da Corte Internacional de Justiça, a não ser que os litigantes concordem com outro meio de solução”.
É o caso, ademais, da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, de 18 de dezembro de 1979. Segundo o artigo 29, 1, “As controvérsias entre dois ou mais Estados-partes, com relação à interpretação ou aplicação da presente Convenção, que não puderem ser dirimidas por meio de negociação serão, a pedido de um deles, submetidas à arbitragem. Se, durante, os seis meses seguintes à data do pedido de arbitragem, as Partes não lograrem pôr-se de acordo quanto aos termos do compromisso de arbitragem, qualquer das Partes poderá submeter a controvérsia à Corte Internacional de Justiça, mediante solicitação feita em conformidade com o Estatuto da Corte”.
É o caso, ainda, da Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, de 10 de dezembro de 1984. Conforme o artigo 30, “As controvérsias entre dois ou mais Estados-partes, com relação à interpretação ou aplicação da presente Convenção, que não puderem ser dirimidas por meio de negociação, serão, a pedido de um deles submetidas à arbitragem. Se, durante os seis meses seguintes à data do pedido de arbitragem, as Partes não lograrem pôr-se de acordo quanto aos termos do compromisso de arbitragem, qualquer das Partes poderá submeter a controvérsia à Corte Internacional de Justiça, mediante solicitação feita em conformidade com o Estatuto da Corte”.
Essas disposições, pela importância das matérias tratadas para a sobrevivência da humanidade, levam a crer que também a competência da Corte, na falta de acordo entre as partes prevendo outro modo de solucionar as controvérsias, é ditada pelo direito internacional geral, não sendo necessário o consentimento expresso das partes, malgrado a letra do Estatuto da Corte. O que não se pode conceber na atual fase da evolução do direito internacional é que havendo alegada violação das normas de jus cogens não haja instância internacional competente para julgar a controvérsia, por falta de consentimento expresso de uma das partes.
C-) A decisão de 10 de julho de 2002
21. Na decisão de 10 de julho de 2002, no entanto, a Corte Internacional de Justiça entendeu não ser competente para julgar o pedido de medida liminar interposto pela República Democrática do Congo pela razão de que esta última não pôde demonstrar o consentimento da República Ruandesa para submeter-se à sua jurisdição, malgrado a invocação das normas imperativas ou de jus cogens.
Como dito acima, a C.I.J. reafirmou que em virtude de seu Estatuto ela não tem automaticamente competência para conhecer dos litígios que lhe são submetidos, sendo necessário o consentimento expresso das partes, de modo geral ou para o caso específico. Ela considerou ainda que a oponibilidade erga omnes de uma norma, como são oponíveis as normas imperativas ou de jus cogens, não se confunde com o consentimento para a jurisdição e invocou seu acórdão proferido no caso Timor Oriental entre Portugal e Austrália (C.I.J. Recueil 1995, p. 102): “o mero fato de que direitos e obrigações erga omnes estão em questão em um litígio não teria o condão de tornar a Corte competente para conhecer desse litígio”. E disse que “existe uma distinção fundamental entre a questão da aceitação por um Estado da competência da Corte e a compatibilidade de certos atos com o direito internacional; a competência exige o consentimento; a compatibilidade só pode ser apreciada quando a Corte examina o mérito, depois de ter estabelecido sua competência e ouvido as duas partes fazer plenamente valer seus meios de prova”.
Quanto à Convenção de Viena sobre direito dos tratados, a C.I.J. estimou que a controvérsia não tratava da declaração de nulidade de um tratado em particular e que portanto essa Convenção não tinha pertinência no caso em tela.
Mas a decisão de 10 de julho de 2002 traz em si uma ambigüidade, que pode apontar no sentido de uma mudança futura da jurisprudência ou da reforma do artigo 36 do Estatuto. É que além dos desenvolvimentos sobre a carência de competência prima facie para julgar o pedido, a decisão também contém o que se costuma chamar de feel good provisions, o que não deixa de satisfazer, ao menos em parte, a pretensão da República Democrática do Congo, em que pese a declarada carência de competência.
De fato, nos parágrafos 54 a 56 e no parágrafo 93 da decisão a Corte se diz “profundamente preocupada com o drama humano, as perdas em vidas humanas e os sofrimentos terríveis que se deploram no leste da República Democrática do Congo em conseqüência dos combates que lá se travam”. A Corte também “tem presente no espírito os fins e os princípios da Carta das Nações Unidas, assim como as responsabilidades que lhe incumbem, em virtude da referida Carta e do Estatuto da Corte, na manutenção da paz e da segurança”. A C.I.J. ainda “estima necessário sublinhar que todas as partes nas instâncias perante ela devem agir com conformidade com suas obrigações decorrentes da Carta das Nações Unidas e das outras regras de direito internacional, inclusive de direito humanitário”. Ela não considera demasiado “insistir sobre a obrigação que têm o Congo e Ruanda de respeitar as Convenções de Genebra de 1949 e o primeiro protocolo adicional a essas Convenções, de 8 de junho de 1977, relativo à proteção das vítimas dos conflitos armados internacionais, instrumentos nos quais ambos são partes”. Ela conclui a decisão afirmando que “aceitem ou não os Estados a jurisdição da Corte, eles continuam de todo modo responsáveis por seus atos contrários ao direito internacional”; que “eles devem em particular conformar-se com as obrigações que são as suas em virtude da Carta das Nações Unidas”; que “a esse propósito a Corte não pode deixar de notar que o Conselho de Segurança adotou numerosas resoluções relativas à situação na região”; que “o Conselho de Segurança por diversas vezes exigiu que ‘todas as partes no conflito ponham (…) fim às violações dos direitos humanos e do direito internacional humanitário'”; que o Conselho de Segurança “lembrou ‘a todas as partes as obrigações que lhes incumb[iam] no que concerne à segurança das populações civis conforme a quarta Convenção de Genebra relativa à proteção da população civil, vítima de conflitos bélicos de 12 de agosto de 1949′”; que ele “acrescentou que ‘todas as forças presentes sobre o território da República Democrática do Congo [eram] responsáveis pela prevenção das violações do direito internacional humanitário cometidas sobre o território que elas controlam'”; que “a Corte deve sublinhar a necessidade para as Partes na instância de empregar sua influência para prevenir as violações graves e repetidas dos direitos humanos e do direito internacional humanitário constatadas ainda recentemente”.
Ora, como bem assinalou o juiz Buergenthal em sua declaração, se a Corte não tem competência para julgar o pedido, não lhe é dado formular juízos sobre a gravidade dos fatos descritos na petição inicial e no pedido de medida liminar, nem se manifestar sobre a obrigação das partes de se conduzirem de acordo com a Carta da O.N.U., com as resoluções do Conselho de Segurança e com o direito internacional. Se a decisão assim o faz é porque no momento atual da evolução do direito internacional a letra do Estatuto da Corte, que exige o consentimento expresso, parece não atender mais aos imperativos da consciência jurídica universal, que pede que o julgamento das violações das normas de jus cogens não dependa da vontade do próprio Estado que as cometeu.
II. O Tribunal Penal Internacional
22. A idéia de que a consciência jurídica universal exige que os crimes de transcendência internacional não fiquem sem julgamento e que o julgamento não dependa do consentimento expresso dos Estados levou à criação do Tribunal Penal Internacional. De fato, o mais recente e também o mais importante passo dado até hoje no sentido da efetivação da noção de crime no plano internacional foi a criação desse Tribunal62.
O Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Estatuto de Roma, que entrou em vigor em 1º de julho de 2002, após a 60a ratificação63. Diferentemente da Corte Internacional de Justiça, ele tem competência para punir não os Estados mas as pessoas físicas responsá veis pelos mais graves crimes que atingem o conjunto da comunidade internacional e deve atuar como complemento das jurisdições internas.
veis pelos mais graves crimes que atingem o conjunto da comunidade internacional e deve atuar como complemento das jurisdições internas.
No preâmbulo do Estatuto, os Estados-partes se dizem conscientes de que todos os povos são unidos por laços estreitos, de que suas culturas formam um patrimônio comum e de que esse mosaico delicado corre o risco de ser quebrado. Eles também evocam os milhões de crianças, mulheres e homens que ao longo do século XX foram vítimas de atrocidades que desafiam a imaginação e que ferem profundamente a consciência humana. Eles afirmam que crimes de uma tal gravidade atingem o conjunto da comunidade internacional e não podem ficar impunes, sua repressão devendo ser efetivamente assegurada por medidas tomadas no âmbito nacional e pelo reforço da cooperação internacional. Os Estados-partes se declaram determinados a pôr fim à impunidade dos autores desses crimes e com isso contribuir para a prevenção de novos crimes, por meio da criação do Tribunal Penal Internacional como complemento das jurisdições internas.
O Tribunal exerce suas funções e seus poderes no território de todos os Estados- partes e, havendo uma convenção específica ou declaração de aceitação da competência para julgar uma determinada causa, também no território de outros Estados. Após a entrada em vigor do Estatuto, o Tribunal tem competência para julgar os crimes cometidos nos Estados-partes ou por nacionais desses Estados e essa competência não pode mais ser recusada. No entanto, se um Estado torna-se parte no Estatuto depois de sua entrada em vigor, o Tribunal só pode exercer sua competência para julgar os crimes cometidos no território desse Estado ou por seus nacionais depois que esse Estado tornou-se parte no Estatuto.
A competência do Tribunal é limitada aos mais graves crimes que atingem o conjunto da comunidade internacional. O artigo 5º do Estatuto define quais são esses crimes: crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão. Como visto, esses crimes constituem violações das normas imperativas ou de jus cogens. No que diz respeito aos crimes de guerra, o artigo 124 do Estatuto admite que um Estado, quando torna-se parte no Estatuto, declare que essa categoria de crimes não lhe seja aplicável por um período de sete anos. Quanto ao crime de agressão, o Tribunal só exercerá sua competência depois que o texto for emendado, sete anos depois da entrada em vigor.
Como foi dito antes, a jurisdição do Tribunal complementa as jurisdições internas dos Estados-partes. Isso significa que o Tribunal não tem competência para julgar questões que estão pendentes no âmbito de uma jurisdição nacional, a menos que o Estado em questão não tenha vontade ou esteja incapacitado de bem realizar o inquérito e o processo. O Tribunal também não tem competência para julgar pessoas que foram indiciadas e investigadas no curso de um inquérito no âmbito nacional, mas que não foram acusadas em ação penal, a menos que se demonstre a falta de vontade ou a incapacidade do Estado em questão de realizar as investigações. Finalmente o Tribunal não tem competência para julgar pessoas que já foram julgadas no âmbito interno, a menos que se demonstre que o processo teve por objetivo livrar o acusado da responsabilidade penal perante o Tribunal e não foi conduzido de modo imparcial.
É importante assinalar que de acordo com o artigo 25, 4, do Estatuto, nenhuma disposição do Estatuto relativa à responsabilidade penal dos indivíduos afeta a responsabilidade dos Estados em direito internacional. O Estatuto não admite nenhuma reserva (artigo 120).
Conclusão
23. O reconhecimento da vigência de normas imperativas ou de jus cogens significa um avanço no sentido da superação da lógica de lateralidade das relações entre soberanias iguais em benefício da construção de uma verdadeira ordem pública internacional.
Mas o mero reconhecimento da vigência dessas normas não basta. É preciso também que se reconheça a obrigatoriedade da competência dos tribunais internacionais cuja jurisdição tem vocação universal para julgar os responsáveis pelas violações, tanto Estados quanto pessoas físicas. No que diz respeito a essas últimas, a criação do Tribunal Penal Internacional é passo da maior importância, visto que sua competência é obrigatória para todos os Estados-partes. No entanto, certos traços de positivismo voluntarista ainda permanecem, como o fato de que o Tribunal só tem competência obrigatória para julgar os crimes cometidos no território ou por nacionais dos Estados-Partes; para os crimes cometidos no território ou por nacionais de outros Estados, o consentimento expresso ainda é necessário, por convenção específica ou declaração de aceitação da competência. No que concerne à responsabilidade do Estado, de competência da Corte Internacional de Justiça, ainda vigoram plenamente as normas clássicas sobre a exigência do consentimento expresso das partes. Essas limitações não mais atendem aos anseios da consciência jurídica universal, como bem revelou a decisão de 10 de julho de 2002. Elas permitem que alegadas violações de normas imperativas ou de jus cogens, como o são os fatos relatados pela República Democrática do Congo, não sejam objeto de julgamento no plano internacional. É urgente tornar obrigatória e universal a competência da Corte Internacional de Justiça e do Tribunal Penal Internacional para julgar as violações de normas imperativas ou de jus cogens.
______________
1. p. 27 e s..
2. p. 13 e s..
3. Da reciprocidade no direito internacional econômico – o Convênio do café de 1976, tese, São Paulo, 1977, p. 1 e s..
4. Id.
5. Id.
6. Id.
7. Id., pp. 3-4.
8. Droit international public, 3a edição, Dalloz, Paris, 1995, p. 15 e s..
9. Id., p. 16.
10.Celso Lafer, cit., p. 9
11. Pierre-Marie Dupuy, cit.
12. Jean-Pierre COT e Alain PELLET, Préambule, in: Jean-Pierre COT e Alain PELLET (org.), La Charte des Nations Unies – Commentaire article par article, 2a edição, Economica, Paris, 1991, p. 2.
13.Id.
14. Id.
15. Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier e Alain Pellet, Droit international public, 5a edição, L.G.D.J., Paris, 1994, p. 201 e 206.
16. Id.
17. Id.
18. Id.
19. Id. p. 203.
20. Id.
21. Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, 3a edição, Dalloz, Paris, 1995, p. 460.
22. Droit international public, 5a edição, L.G.D.J., Paris, 1994, p. 199 e s..
23. Id., p. 202 e p. 203.
24. Id.
25. Id., p. 203.
26. Id.
27. Curso de direito internacional público, vol. 1, Atlas, São Paulo, 2002, p. 132.
28. Id.
29. Réflexions sur le “jus cogens”, Annuaire français de droit international, 1966, pp. 8-9.
30. Id.
31. Id.
32. Id.
33. Id.
34. Id.
35. Droit international, 3a edição, Pedone, Paris, 1991, p. 72.
36. Id., p. 73.
37. Droit international public, 3a edição, Dalloz, Paris, 1995, p. 74, 81, 97, 172.
38. Id., p. 221.
39. Id.
40. Tratado de direito internacional dos direitos humanos, vol. II, Sérgio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1999, p. 416.
41. Droit international public, Montchrestien, Paris, 1993, p. 157.
42. L’évolution du droit international – Cours général de droit international public, R.C.A.D.I., tomo 222, 1990-III, p. 59.
43. Acórdão de 9 de abril, Recueil C.I.J., p. 22.
44. Parecer Consultivo de 28 de maio, Recueil C.I.J., p. 23.
45. Acórdão de 5 de fevereiro, Recueil C.I.J., p. 32.
46. Decisão de 15 de dezembro, Recueil C.I.J., p. 20.
47. Decisão de 24 de março, Journal du droit international, tomo 109, n.º 4, p. 893.
48. Acórdão de 31 de julho de 1989, Revue générale de droit international public, tomo 94, 1990, nº 1, p. 234.
49. Parecer de 29 de novembro de 1991, Revue générale de droit international public, tomo 96, 1992, nº 1, p. 265.
50. Parecer de 4 de julho de 1992, Revue générale de droit international public, tomo 97, 1993, nº 2, p. 592.
51. Parecer de 11 de janeiro de 1992, Revue générale de droit international public, tomo 96, 1992, nº 1, p. 266.
52. Parecer de 4 de julho de 1992, Revue générale de droit international public, tomo 97, 1993, nº 2, p. 595.
53. Hubert Thierry, L’évolution du droit international – Cours général de droit international public, R.C.A.D.I., tomo 222, 1990-III, p. 63 e s.
54. Id., p. 64.
55. Id. Ver também Guido Fernando Silva Soares, Curso de direito internacional público, vol. 1, Atlas, São Paulo, 2002, pp. 134-135.
56. Hubert Thierry, cit.
57. Id., p. 64-65.
58. Id., p. 65.
59. Id.
60. Id.
61. Ver E. P. Nikoloudåes, La nullité de jus cogens et le développement contemporain du droit international public, Editions Papa Zissi, Atenas, 1974, 253 p.
62. Ver Sylvia Helena F. Steiner, “Tribunal Penal Internacional – a proteção dos direitos humanos no século XXI”, Revista do Advogado, ano XXII, nº 67, agosto de 2002, pp. 71-80.
63. Conforme o artigo 126. O Estatuto foi aprovado pela Conferência Diplomática de Plenipotenciários das Nações Unidas e aberto para assinatura em 17 de julho de 1998.
_________________
Bibliografia
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos humanos, vol. II, Sérgio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1999, 440 p.
CARREAU, Dominique. Droit international, 3a edição, Pedone, 1991, 649 p.
COMBACAU, Jean e SUR, Serge. Droit international public, Montchrestien, Paris, 1993, 821 p.
COT, Jean Pierre e PELLET, Alain. Préambule, in: Jean-Pierre COT e Alain PELLET (org.), La Charte des Nations Unies – Commentaire article par article, 2a edição, Economica, Paris, 1991, pp. 1-22.
DINH, Nguyen Quoc, DAILLIER, Patrick e PELLET, Alain. Droit international public, 5a edição, L.G.D.J., Paris, 1994, 1317 p.
DUPUY, Pierre-Marie. Droit international public, 3a edição, Dalloz, Paris, 1995, 590 p.
LAFER, Celso. Da reciprocidade no direito internacional econômico – o Convênio do café de 1976, tese, São Paulo, 1977, 324 p.
NIKOLOUDÅES (E.P.). La nullité de jus cogens et le développement contemporain du droit international public, Editions Papa Zissi, Atenas, 1974, 253 p.
SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de direito internacional público, vol. 1, Atlas, São Paulo, 2002, 437 p.
STEINER, Sylvia Helena (F.). Tribunal Penal Internacional – a proteção dos direitos humanos no século XXI, Revista do Advogado, ano XXII, nº 67, agosto de 2002, pp. 71-80.
THIERRY, Hubert. L’évolution du droit international – Cours général de droit international public, R.C.A.D.I., tomo 222, 1990-III, pp. 9-186.
VIRALLY, Michel. Réflexions sur le “jus cogens”, Annuaire français de droit international, 1966, pp. 5-29.
______________
* Advogada, escritório Silva Telles Advogados, doutora pela Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne).

___________________________
Atualizado em: 1/4/2003 11:49