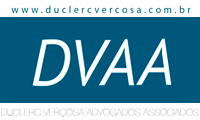CompartilharComentarSiga-nos no![]() A A
A A
Já se cansou de falar que nos tempos atuais, em termos da vida dos negócios, o dia de hoje já está no passado, tantas, tão diversas e tão complexas são as novas operações e novos títulos mobiliários criados permanentemente para o atendimento das necessidades de um mercado ávido de soluções condizentes com os novos cenários, destacando-se o direito bancário e o do mercado de capitais. E essas novidades surgem fundamentadas no âmbito constitucional da autonomia privada, que confere validade a todas aquelas operações construídas dentro do limite da licitude.
No plano acima referido surge a questão de qual seja o direito aplicável, tanto no nascimento (a origem), quanto no funcionamento e quanto à solução de eventuais problemas jurídicos que possam surgir, percebendo-se pela própria natureza da desregulamentação que não há um fundamento normativo expresso sobre o qual possa ser erigida a sua solução. E essa se dará de um lado pela aplicação da teoria geral do contrato e, de outro, pela teoria geral dos documentos (títulos mobiliários) os quais, conforme o caso, poderão ser identificados como valores mobiliários nos termos da definição dada pelo art. 2º da lei 6.385/1976.
1. O campo do contrato
Na falta de uma definição legal do contrato no direito brasileiro a doutrina a jurisprudência têm tomado por empréstimo, dada a familiaridade dos dois ordenamentos jurídicos, o conceito encontrado no art. 1.321 do CC Italiano que assim se expressa em tradução livre: “o contrato é todo o acordo de vontades entre duas ou mais partes, destinado a constituir, regular ou extinguir uma relação jurídica de natureza patrimonial”.
Observe-se que os nossos códigos civis não se preocuparam com a incorporação nos seus textos da teoria geral do contrato, diferentemente do que aconteceu na Itália desde o seu código de 1942, o mesmo se verificando com o prolixo projeto que recentemente foi apresentado no Senado Federal1. Ora, a falta de um tratamento dessa espécie coloca os operadores do direito em uma situação complicada na busca de parâmetros gerais de segurança e de certeza que possam ser observados quando se trata da solução de problemas nascidos no âmbito dos contratos, o que se observa com muito mais gravidade em relação a novas modalidades atípicas, precisamente a situação que ora nos preocupa, a da desregulamentação.
A teoria geral se revela como um norte, a ser buscado quando se trata de construir um contrato novo para atender a novas necessidades do mercado, cada vez mais ávido de mudanças nos seus parâmetros. Mais precisamente, sabe-se que as novas operações são criadas no ambiente negocial das empresas, muitas vezes sem que delas participem assessores jurídicos, o que frequentemente tem dado lugar a problemas de ilicitude, que levam à sua nulidade em momento posterior, quando utilizados2. Dessa maneira, para se ter segurança e certeza quanto à construção de novas operações é necessário verificar a sua adequação à ordem jurídica contratual que se encontra dispersa no CC, recorrendo-se frequentemente a modelos próximos já existentes – tipificados ou atípicos -, considerando-se que nada de absolutamente novo existe na área negocial.
Veja-se que o Código Comercial Brasileiro de 1850 encerrava duas normas extremamente importantes no tocante à interpretação dos contratos mercantis (arts. 130 e 131)3, que não foram aproveitadas pelo CC/02, conforme objeto de considerações na obra aqui já citada, item 15.10, pp 588 a 590, mas que podem ser aplicadas nas necessidades atuais, na falta de norma expressa, na condição de princípios contratuais gerais.
O ambiente normativo dentro do qual o operador do direito pode trabalhar em relação aos contratos desregulamentados corresponde à tutela: (i) do negócio jurídico (do qual o contrato é uma espécie), dos seus defeitos e de sua invalidade; (ii) dos atos jurídicos lícitos e ilícitos; (iii) do direito obrigacional; (iv) de algumas regras gerais sobre os contratos (arts. 421 a 435); (v) dos contratos aleatórios; (vi) dos contratos preliminares; e (vii) da extinção do contrato.
Em contrapartida, veja-se que o CC Italiano consagra normas sobre a teoria geral do contrato, sistematicamente, no seu Título II, artigos 1.321 a 1.469. As novas operações dentro do contexto da teoria geral encontram abrigo no art. 1.322, que abre pleno espaço para a criatividade no âmbito da licitude4. Evidentemente a estratégia daquele Código torna a vida do usuário e do criador de novos tipos contratuais muito mais fácil. Aqui ficamos na pobreza franciscana, que já poderia ter sido superada com o Código atual, mas mantido na sua insuficiência, apresentados problemas novos na proposta em andamento. Observe-se a propósito que, de maneira quase absoluta, o ensino do contrato nas universidades é extremamente pobre, agravado pelo fato de que a esse respeito direito e economia não conversam entre si.
Em conclusão, nos termos em que se apresenta um indesejável futuro na esfera da tutela das operações desregulamentadas e das novas é permanecermos na vanguarda do atraso.
2. Títulos e valores mobiliários “desregulamentados”
Mais uma vez é oportuno observar que os agentes econômicos têm o direito de criarem novos títulos e valores mobiliários pela expressão de sua autonomia privada constitucional. Mais uma vez a questão se coloca nos planos da sua licitude e de sua tutela.
Nesse contexto podemos encontrar títulos mobiliários de um lado, e valores mobiliários do outro. Observe-se a esse respeito que não estamos tratando de títulos de crédito estrito senso, cuja gênese depende obrigatoriamente de lei, conforme estabelecido no art. 887 do CC: “O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei”.
Esses verdadeiros títulos de crédito apresentam os requisitos fundamentais da cartularidade (o direito está intrinsecamente ligado ao documento no qual ele se expressa); da literalidade (o conteúdo e extensão do direito estão limitado ao seu teor escrito); e autonomia (as obrigações presentes nos títulos de crédito são autônomas umas em relação às outras). Há outros requisitos relativos a esses documentos dos quais não é necessário aqui tratar para os fins deste artigo.
A referida autonomia se expressa na circulação dos títulos de crédito por endosso, não assim acontecendo em relação aos títulos livremente criados, na ausência de lei. Sua circulação se dá pela cessão civil do crédito que dele consta, o que traz dificuldades práticas, ineficiência e riscos na sua circulação. Observe-se que a sua natureza jurídica é de bens móveis imateriais ou imateriais, neste último caso quando se revestem da característica de eletrônicos ou virtuais e como tais devem ser tratados na sua gênese e nos seus efeitos jurídicos5.
Nestes últimos tempos as limitações circulatórias seguras quanto aos títulos desregulamentados são/serão superadas pelo recurso ao blockchain e ao seu registro e circulação no ambiente de registradoras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, por este definidas como “infraestruturas do mercado financeiro- IMFs”, tal como acontece com aquelas destinadas ao registro de recebíveis de arranjos de pagamento, de duplicatas (como é o caso da Central de Registro de Direitos Creditórios – CRDC) e de outros títulos. É possível imaginar que em algum futuro os títulos de crédito estrito senso sejam superados na sua necessidade por esses novos instrumentos, pois todas as vantagens legais de segurança e de certeza na sua criação e circulação, que eles apresentam, também estarão presentes naqueles.
3. Evolução Darwiniana para os valores mobiliários e sua tutela jurídica
Ao tempo da promulgação da lei 6.385/1976 o legislador se preocupou em definir os valores mobiliários no seu art. 2º, com o fim de proteger os aplicadores de recursos no mercado de capitais. A relação original desse dispositivo, bastante ampla, apresentava um necessário caráter fechado, tendo em vista precisar o seu objeto, sujeito a uma disciplina especial a cargo da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, como forma de se dar segurança e certeza na atuação dela mesma e dos agentes do mercado. Aquela lei na sua redação original bem serviu ao seu objeto, até o momento em que começaram a surgir novos tipos de títulos e de contratos negociados naquele mercado, que vieram a ser conhecidos como títulos ou contratos de investimento coletivo, que ficavam fora da jurisdição da CVM, pelo seu conteúdo, forma ou veículo.
O caso mais emblemático foi o das Fazendas Boi Gordo, cujos contratos foram negociados por uma sociedade limitada no ano de 19976. Ainda que materialmente enquadrados como valores mobiliários segundo o contexto do teste de Howey7, do ponto de vista normativo eles assim não poderiam ser considerados porque não se enquadravam até então em qualquer das hipóteses do referido art. 2º da lei 6.385/1976, podendo essa situação condizer com uma falha legislativa superveniente, causada por um instituto surgido no mercado de capitais brasileiro, até então desconhecido.
O fato acima gerou uma atualização do conceito de valor mobiliário, feita por meio da MP 1.637/1998 que teve diversas reedições, até ser confirmada pela lei 10.303/01, tendo sido modificada a lei citada no parágrafo anterior em alguns dos seus dispositivos, especialmente no art. 2º que incorporou novos institutos como valores mobiliários, destacando-se modalidades mais recentes, como os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários; outros contratos derivativos independentemente dos ativos subjacentes; e os contratos de investimento coletivo. Como se percebe, ainda que fechada, a relação dos valores mobiliários ficou muito mais ampliada, havendo quem a critique porque pode dar ensejo segundo a sua redação a interpretações subjetivas, como parece ter acontecido no julgamento dos D¥Ns e emitidos pela Dynasty Global, nos termos do PA CVM 19957.014289/2022-97.
Nesse cenário tudo leva a crer que a novidade crescente de novos títulos ou contratos deverá resultar em nova alteração da lei, para incluí-los como valores mobiliários porque, como dizia uma antiga propagando comercial, “o mundo gira e a Lusitana roda”.
Enquanto isso não acontece, conforme o caso seus efeitos danosos são tutelados, conforme o caso pelo direito do consumidor, pelo insuficiente Código Civil e pelo direito penal.
Alea jacta est, permitam-me os combatentes do uso da nossa língua-mãe;
________
1 Vide nossa crítica ao Projeto nos artigos “O projeto de reforma do Código Civil volta ao ataque”, Migalhas de 14.02.2025; e “A indefinível, impraticável e perigosa função social do contrato na reforma do Código Civil – Agravada reincidência de um erro”, Migalhas de 06.03.2024.
2 Cabe aqui um dado da nossa experiência nos longos anos passados no Banco Central do Brasil. Os novos “produtos” criados no âmbito interno das instituições financeiras eram elaborados dentro das tesourarias, encontrando-se os departamentos jurídicos quase sempre alheios ao processo. E o que é pior, quando chamados a se pronunciar quase nada entendiam do que se tratava. E, na modernidade, quando se fala em ativos virtuais e inteligência artificial, o seu estudo nas universidades é meramente acidental, quando acontece.
3 “Art. 130. As palavras dos contratos e convenções mercantis devem inteiramente entender-se segundo o costume e uso recebido no comércio, e pelo mesmo modo e sentido por que os negociantes se costumam explicar, posto que entendidas de outra sorte possam significar coisa diversa.”
“Art. 131. Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a interpretação, além das regras sobreditas, será regulada sobre as seguintes bases:1 – a inteligência simples e adequada, que for mais conforme à boa-fé, e ao verdadeiro espírito e natureza do contrato, deverá sempre prevalecer à rigorosa e restrita significação das palavras;2 – as cláusulas duvidosas serão entendidas pelas que o não forem, e que as partes tiverem admitido; e as antecedentes e subsequentes, que estiverem em harmonia, explicarão as ambíguas;3 – o fato dos contraentes posterior ao contrato, que tiver relação com o objeto principal, será a melhor explicação da vontade que as partes tiverem no ato da celebração do mesmo contrato;4 – o uso e prática geralmente observada no comércio nos casos da mesma natureza, e especialmente o costume do lugar onde o contrato deva ter execução, prevalecerá a qualquer inteligência em contrário que se pretenda dar às palavras.”
4 Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
5 Aproveite-se para o fim deste estudo as considerações feitas em artigos de nossa autoria a respeito da natureza jurídica dos criptoativos e de outros assuntos a esses ligados in “A natureza jurídica dos criptoativos e sua utilização nos contratos”, Migalhas de 04.02.2022; e “O gestor público e o privado diante das criptomoedas”, Migalhas de 18.01.2022.”
6 Vide a esse respeito o texto de nossa autoria “A CVM e os contratos de investimento coletivo: boi gordo e outros” (1997), in Revista de Direito Mercantil nº 108, vol. 36, pp. 91-100.
7 Segundo o referido teste, nascido na jurisprudência norte-americana, O contrato de investimento resulta cumulativamente dos seguintes elementos: Investimento: aporte em dinheiro ou bem suscetível de avaliação econômica; Formalização: título ou contrato que resulta da relação entre investidor e ofertante, independentemente de sua natureza jurídica ou forma específica; Caráter coletivo do investimento; Expectativa de benefício econômico: seja por direito a alguma forma de participação, parceria ou remuneração, decorrente do sucesso da atividade referida no item (v) a seguir; Esforço de empreendedor ou de terceiro: benefício econômico resultante da atuação preponderante de terceiro que não o investidor; e Oferta pública: esforço de captação de recursos junto à poupança popular.
Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa
Professor sênior de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP. Sócio do escritório Duclerc Verçosa Advogados Associados. Coordenador Geral do GIDE – Grupo Interdisciplinar de Direito Empresarial.