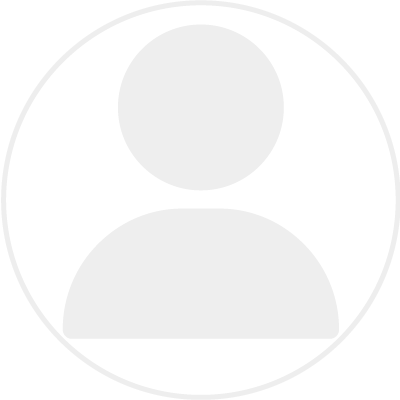O art. 842 do novo Código Civil e a burocratização da transação extra-judicial
Antônio Cláudio Linhares Araújo*
O artigo 842 do novo Código Civil promoveu inovação na disciplina da transação que traz conseqüência de significativo impacto, porém de duvidosa utilidade, no cotidiano da atividade forense.
Atualmente, tem ganhado grande prestígio a idéia consagrada no brocardo que reza que “mais vale um mau acordo do que uma boa questão”. A sociedade tem percebido que o tratamento consensual dos litígios, seja como forma de prevenção de demandas judiciais, seja como meio de por fim a processos já em andamento, é medida capaz de proporcionar uma satisfatória solução de querelas que, de outra forma, teriam que esperar por uma demorada e cara resposta advinda do judiciário, que muitas vezes não atendia às necessidades nem do autor, nem do réu.
Manifestações desta tendência de valorização da busca pela autocomposição dos litígios percebem-se em diversas inovações normativas ocorridas em nosso ordenamento em épocas recentes, v.g, o inciso IV do art. 125 do CPC, acrescentado pela Lei 8.952/94, que instituiu verdadeiro princípio norteador da atividade judicial no sentido da busca do consenso, prescrevendo caber aos juízes “tentar a todo tempo conciliar as partes”. Ponto culminante desta maré consensual que atinge o processo judicial foi, sem dúvida, a Lei 9.099/95, que valorizou sobremaneira a conciliação no desenvolvimento do processo, inovando profundamente ao estender a utilização de instrumentos consensuais de solução de litígios para o campo penal, com os institutos do sursis processual e transação penal.
Denomina-se transação ao negócio jurídico mediante o qual as partes, usando da autonomia da vontade, dispõem sobre direitos controversos. Sob o aspecto processual, a transação é vista como forma de autocomposição da lide, ou seja, o conflito de interesses posto sob análise do judiciário é solucionado pela atividade das próprias partes. Implementado o acordo que põe fim ao litígio, a intervenção judicial resume-se apenas a verificar a regularidade da avença celebrada e, encontrando presentes os requisitos de validade do ato, encerrar o processo com sentença meramente homologatória. Conclui-se, portanto, que não é requisito de eficácia da transação a homologação judicial, uma vez que é o próprio ato negocial mediante o qual as partes dispuseram sobre os direitos em conflito que terminou a demanda, sendo a sentença homologatória mera projeção dos efeitos da transação sobre o processo, encerrando-o.
A sentença homologatória, malgrado em verdade apenas reconheça a solução encontrada pelas próprias partes para a questão posta em juízo, encerra pronunciamento definitivo sobre a controvérsia, pois se inclui entre as formas de extinção do processo com julgamento do mérito, com força de coisa julgada material, estando elencada em lei como título de eficácia executiva. É justamente dessa aptidão que tem o pronunciamento judicial homologatório da transação de gerar a coisa julgada material que decorre a importância da análise judicial da obediência aos requisitos de validade do negócio jurídico promovido pelas partes. Se o ato não estiver revestido dos elementos impostos pela lei para sua validade, não deve o juiz homologa-lo, posto que, se assim o fizer, a lide não estará em verdade resolvida, abrindo-se até mesmo a possibilidade do litígio ser reinstalado após o trânsito em julgado da sentença homologatória, mediante ação que vise à anulação da transação em si mesma.
Gostaríamos de chamar a atenção para uma inovação no Código Civil de 2002 que incluiu um requisito de validade de natureza formal que doravante deverá ser observado pelos magistrados ao homologarem a transação.
O art. 842 do nCC, que tem como correspondentes no código anterior os art. 1.028 e1.029, estabelece a forma como deve ser materializado o negócio jurídico destinado a extinguir direitos obrigacionais em litígio mediante consenso das partes. É portanto com base nas regras extraídas deste artigo que devem se orientar os pactuantes para que a transação seja consubstanciada em instrumento que contemple o requisito de validade da “forma prescrita ou não defesa em lei” (art. 104, inciso III, do nCC).
Ao que nos parece, entretanto, o aludido dispositivo legal situou-se na contramão da moderna tendência normativa que valoriza e procura facilitar o acordo de vontades como solução de demandas judiciais. Isto porque instituiu a exigência de que a transação seja realizada mediante termo nos autos ou instrumento público sempre que tenha por objeto direitos contestados em juízo.
Quanto realizada para por fim à demanda judicial já em andamento, a transação pode ser realizada por meio de termo lavrado nos autos do processo, situação que costuma ocorrer quando da atividade conciliatória desenvolvida pelo juiz nas audiências resulta o acordo. Entretanto, muitas vezes a negociação envolve detalhes que demandam tempo, apresentação de propostas e contrapostas que necessitam de cálculos ou consultas dos prepostos envolvidos diretamente às partes, de modo que a conciliação é mais facilmente obtida mediante a atuação dos próprios advogados. Nestas situações, bem freqüentes para aqueles que atuam em advocacia empresarial, a transação habitualmente é materializada em documento elaborado fora dos autos e posteriormente apresentado ao juiz, que, fazendo uma análise positiva dos requisitos de validade, profere a sentença homologatória.
Sob as regras do novo Código Civil, este documento, antes elaborado pelas próprias partes, contendo as cláusulas da transação, deverá necessariamente ser consubstanciado em instrumento público lavrado por tabelião. No regime anterior não havia este obstáculo de natureza formal para que as partes entabulassem acordo que visasse ao fim da demanda judicial. A transação subordinava-se às regras gerais de formalização de qualquer espécie de contrato, quer fosse feita para prevenir litígios ou quando fosse feita após a propositura da ação, sendo que, quando realizada depois de instaurado o processo, além das formas comuns admitidas pela lei na formação dos contratos, admitia-se ainda que o acordo fosse reduzido a termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.
No código anterior, portanto, a forma livre era a regra e a escritura pública só era obrigatória nos casos em que a natureza do direito sobre o qual versasse a demanda exigisse tal forma de exteriorização do negócio jurídico, como, por exemplo, nos casos de direitos reais sobre imóveis ou de direitos de sucessão hereditária.
Esta inovação, além de encarecer as despesas das partes com os emolumentos cartorários, revela-se completamente desarrazoada. Nos casos de direitos para os quais a lei nunca exigiu a forma pública nos atos negociais, qual o ganho em exigir a forma pública para transação após o processo judicial instalado? Se fosse o negócio implementado como forma de prevenção do litígio não seria obrigatória a forma pública e a circunstância de ser sempre o acordo submetido à apreciação do magistrado, nos casos em que já há controvérsia judicial, certamente cerca de maior segurança o ato. Não há portanto utilidade na novidade legislativa, que deu um passo atrás na busca pela conciliação nos processos.
Por último, interessante notar que o aludido art. 842 menciona a expressão “direitos contestados em juízo”, deixando então aberta a possibilidade da transação continuar a realizar-se mediante instrumento particular antes de apresentada a contestação por parte do réu.
_________________
*Bacharel em Direito e Técnico Judiciário da 3a. Vara da Comarca de Sobral-CE
__________________
Atualizado em: 1/4/2003 11:49